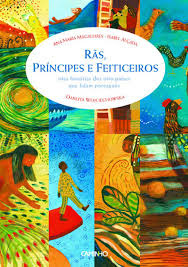O FIM DE UM VOO
O gato grande, preto e gordo estava a apanhar sol na varanda, ronronando e meditando acerca de como se estava bem ali, recebendo os cálidos raios de barriga para cima, com as quatro patas muito encolhidas e o rabo estendido.
No preciso momento em que rodava preguiçosamente o corpo para que o sol lhe aquecesse o lombo ouviu o zumbido provocado por um objeto voador que não foi capaz de identificar e que se aproximava a grande velocidade. Atento, deu um salto, pôs-se de pé nas quatro patas e mal conseguiu atirar-se para um lado para se esquivar à gaivota que caiu na varanda.
Era uma ave muito suja. Tinha todo o corpo impregnado de uma substância escura e mal cheirosa.
Zorbas aproximou-se e a gaivota tentou pôr-se de pé arrastando as asas.
- Não foi uma aterragem muito elegante - miou.
- Desculpa. Não pude evitar - reconheceu a gaivota.
- Olha lá, tens um aspeto desgraçado. Que é isso que tens no corpo? E que mal cheiras! - miou Zorbas.
- Fui apanhada por uma maré negra. A peste negra. A maldição dos mares. Vou morrer - grasnou a gaivota num queixume.
- Morrer? Não digas isso. Estás cansada e suja. Só isso. Porque é que não vais até ao jardim zoológico? Não é longe daqui e há lá veterinários que te poderão ajudar - miou Zorbas.
- Não posso. Foi o meu voo final - grasnou a gaivota numa voz quase inaudível, e fechou os olhos.
- Não morras! Descansa um pouco e verás que recuperas. Tens fome? Trago-te um pouco da minha comida, mas não morras - pediu Zorbas, aproximando-se da desfalecida gaivota.
Vencendo a repugnância, o gato lambeu-lhe a cabeça. Aquela substância que a cobria, além do mais, sabia horrivelmente. Ao passar-lhe a língua pelo pescoço notou que a respiração da ave se tornava cada vez mais fraca.
- Olha amiga, quero ajudar-te mas não sei como. Procura descansar enquanto eu vou pedir conselho sobre o que se deve fazer com uma gaivota doente - miou Zorbas, preparando-se para trepar ao telhado.
Ia a afastar-se na direção do castanheiro quando ouviu a gaivota a chamá-lo.
- Queres que te deixe um pouco da minha comida? - sugeriu ele algo aliviado.
- Vou pôr um ovo. Com as últimas forças que me restam vou pôr um ovo. Amigo gato, vê-se que és um animal bom e de nobres sentimentos. Por isso vou pedir-te que me faças três promessas. Fazes? - grasnou ela, sacudindo desajeitadamente as patas numa tentativa falhada de se pôr de pé.
Zorbas pensou que a pobre gaivota estava a delirar e que com um pássaro em estado tão lastimoso ninguém podia deixar de ser generoso.
- Prometo-te o que quiseres. Mas agora descansa - miou ele compassivo.
- Não tenho tempo para descansar. promete-me que não comes o ovo - grasnou ela abrindo os olhos.
- Prometo que não te como o ovo - repetiu Zorbas.
- Promete-me que cuidas dele até que nasça a gaivotinha.
- Prometo que cuido dele até nascer a gaivotinha.
- E promete-me que a ensinas a voar - grasnou fitando o gato nos olhos.
Então Zorbas achou que aquela infeliz gaivota não só estava a delirar, como estava completamente louca. - Prometo ensiná-la a voar. E agora descansa, que vou em busca de auxílio - miou Zorbas trepando de um salto para o telhado.
Kengah olhou para o céu, agradeceu a todos os bons ventos que a haviam acompanhado e, justamente ao exalar o último suspiro, um pequeno ovo branco com pintinhas azuis rolou junto do seu corpo impregnado de petróleo.
Luís Sepúlveda, História de Uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar,
Esta é a história do gato Zorbas e da gaivota Ditosa, dois amigos improváveis. Uma história deliciosa que agrada a pequenos e grandes. O autor, Luís Sepúlveda, oferece-nos uma bela fábula com uma mensagem de esperança.